O ESTADO ADQUIRIU UM INTERESSE RENOVADO

O debate sobre o Estado adquiriu um interesse renovado, tanto pela nova cruzada antiestatal desencadeada pelas extremas direitas no mundo, que o colocam como o grande inimigo histórico a ser derrotado, quanto por sua crescente intervenção para moderar as crises econômicas que estão abalando o capitalismo global.Intervenções por meio de injeções monetárias, endividamento, protecionismo, disputas imperialistas ou novas desregulamentações.
Até mesmo aqueles que pretendem superar o Estado a partir das esquerdas ou destruí-lo a partir das direitas, confessam no final que precisam do Estado para fazê-lo.Mas o momento que revelou com maior intensidade o protagonismo global do Estado, do meu ponto de vista, foi o ano de 2020, quando, para enfrentar a pandemia da covid-19, apenas com a convocação dos Estados, cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo deixaram suas fontes de trabalho.Um número maior que 3 bilhões não pôde comparecer a suas atividades sociais, educativas, recreativas ou de interação social.
Da noite para o dia, o mundo social planetário, tal como o conhecíamos, ficou paralisado.Em abril de 2020, o PIB mundial havia caído 20%, em junho 18% e em julho 15%. Foi a suspensão de atividades laborais e sociais mais extensa e longa da história da humanidade.
De que recurso, de que poder se valeu o Estado para alcançar algo aparentemente impossível, como colocar um freio na vertigem do tecido das sociedades modernas?A definição weberiana do Estado como monopólio da coerção não é útil para entender esse acontecimento; para que mais de 3 bilhões de pessoas aceitassem a suspensão temporária de seu destino social, sem mais justificativa que a coerção e a prisão, teria sido necessário centenas de milhões de policiais e militares atrás de cada um dos milhões de cidadãos, obrigando-os a acatar a quarentena, o que é impossível.
A tradição jurista germânica que centra o poder do Estado na existência de um ordenamento jurídico ou na associatividade de vontades políticas dotadas de poder de dominação também não é suficiente para explicar os sucessos, já que a maior parte da suspensão do mundo social foi feita sem o apoio de leis e, em todos os casos, congelando as próprias garantias constitucionais de deslocamento e de atividade laboral.Isso levou até mesmo o filósofo Agamben a especular sobre o desenvolvimento de um experimento de estado de exceção perpétuo. No entanto, os vislumbres de legalidade nunca se perderam na avaliação moral dos cidadãos, que estavam mais preocupados com o risco de morte do que com o preciosismo jurídico das leituras constitucionais. A proposta de Mann de que o Estado seria um conjunto de instituições que reivindicam, em um território demarcado, o monopólio de normas, ou a de Jessop, que acrescenta que essas instituições possuem a função socialmente aceita de aplicar decisões vinculantes, apenas veem os efeitos do Estado sem explicar precisamente o núcleo estatal de por que essas instituições têm, com sucesso, o monopólio permanente de normas ou por que têm o monopólio da aceitação social de aplicar decisões vinculantes. De onde saíram essas atribuições? Quem e por que lhes concederam esses poderes? Em conjunto, qualquer teoria que conhecemos sobre o Estado se paralisa e se mostra impotente para explicar esse acontecimento global, mas, em geral são inúteis as que conhecemos, as que aprendemos, para explicar qualquer momento de intensidade histórica. Esse é o limite das teorias do Estado.
Claramente, não é uma coisa. Os escritórios governamentais, por exemplo, a sede do Parlamento, dos tribunais ou serviços públicos são somente isso, edifícios, cimento e aço, que não têm poder algum. O Estado não é uma soma de edificações inanimadas.O Estado funciona mesmo sem lugares. Também não é um amontoado de leis, arquivos, normas ou disposições. Estas, por si mesmas, são apenas tinta em papéis ou bytes de informação em servidores.O que importa dos edifícios, independentemente de sua forma arquitetônica ou dos materiais de construção, são a disposição e a atividade das pessoas que os ocupam e, sobretudo, as atitudes e autorizações coletivas que as pessoas comuns concedem a essas pessoas que estão nesses edifícios ou que escrevem esses papéis, dando lugar ao que chamamos de instituições.Igualmente, o que importa das leis, decretos ou normas ou constituições que emitem determinados funcionários não é sua prosa enredada que as caracteriza, mas a crença em seu cumprimento que as pessoas lhes concedem em um determinado espaço geográfico limitado, o que chamamos de um paísA força dos membros de uma instituição pública, de qualquer ministério, o peso social da norma legal que enunciam, não nasce nem do bloco de cimento, nem dos escritórios, nem das pessoas que emitem um discurso, nem apenas das palavras escritas no código.Sua força reside na crença social compartilhada por todos os membros de uma sociedade, territorialmente demarcada, de que as pessoas que estão nesse edifício, as pessoas que debatem nesse fórum e as palavras que estão no texto são de cumprimento coletivo, ou seja, têm um efeito vinculante.Até mesmo o instituto que parece ter o poder autorreferencial, a polícia ou as forças armadas, não deixariam de ser uma gangue armada suscetível de ser contrabalançada por outras gangues armadas se não fosse pela crença generalizada de que essas armas e essas pessoas que as possuem têm uma função de proteger o resto da sociedade.O Estado é, pois, em princípio, um conjunto de crenças compartilhadas e de ações práticas emergentes dessas crenças. Só a crença dá vida social a um entrelaçado de cimento e aço.Só a crença e a ação que acompanha essa crença, fazem de uma pessoa qualquer um portador de autoridade suscetível de ser acatado pelos demais. O fundamental do Estado não são nem os edifícios, nem as normas, nem as pessoas que redigem ou ocupam. Embora, claro, todo Estado precise de edifícios, normas e pessoal para viabilizar suas funções. O que importa são os vínculos, as interdependências entre as pessoas que estabelecem entre si, seja diretamente ou através desses edifícios, normas e pessoas, para regular precisamente suas relações em comum.Daqui se desprende uma segunda negação. O Estado não é apenas o governo de um país, nem tampouco a soma dos tradicionais três poderes do Estado — Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso é assim porque também existem outras inúmeras instituições governamentais e vínculos sociais que as acompanham, como os governos locais, os sistemas de ensino e saúde pública, as empresas estatais, os bens públicos — florestas, rios, mares, espectro eletromagnético, etc.
Mas, além disso, está no conjunto de direitos acumulados em décadas e séculos e compilados em constituições, legislações, procedimentos, recursos, hábitos e memória coletiva que transcendem os governos, estando eles obrigados a executar, a gerir.
Também está no conjunto de saberes e conhecimentos práticos da população sobre esses direitos e as correspondentes obrigações coletivas para que se exerçam esses direitos, como o pagamento de impostos e todos os dispositivos de senso comum que permitem às pessoas de um país praticar o regime de propriedade, reconhecer a autoridade e cumprir com o caráter vinculante das decisões governamentais, etc.Tão importante quanto o ministério encarregado de certificar um título de escolaridade ou de emitir a moeda de uso geral, é o conhecimento tácito das pessoas acerca do valor social da certificação estatal.
Por exemplo, em uma empresa privada, na hora de verificar os méritos educativos de um contratado, ou de um vendedor de alimentos ao receber uma nota de mil pesos. As pessoas em sua vida diária e em suas múltiplas interações com outras pessoas privadas mediam esses vínculos com crenças estatais que dão corpo ao Estado de uma maneira tão imanente a seu próprio ser individual que, em geral, não requer nem a presença de guardas armados, nem de advogados penalistas, nem de edifícios governamentais para fazer existir e funcionar o Estado. Por isso, nos surpreende ver como em alguns países, por exemplo, podem passar meses sem governo, mas com o Estado funcionando, como na Bélgica e no Iraque em 2010, nos Países Baixos em 2017, no Líbano em 2021, etc.Temos então que o Estado, como se diz geralmente, é uma relação social. Isso já é um grande avanço frente às leituras instrumentalistas do Estado que o entendem como uma coisa, como uma ferramenta suscetível de ser manipulável como um martelo.O Estado como relação social ajuda a descodificar a compreensão do Estado, mas também é insuficiente, pois tudo é uma relação social. Uma empresa, a família, a propriedade, o dinheiro, o amor, a linguagem, as festividades, o clube de jogos e o conjunto de instituições sociais da vida cotidiana são relações sociais.
O Estado é um tipo de relação social cuja especificidade reside em envolver com exclusividade e obrigatoriedade todos os membros de uma entidade territorial claramente delimitada em relação a outras no globo terrestre.Mas, além disso, é a relação de organização da vida em comum dessas pessoas nessa entidade territorial. O Estado como um Comum.
Quando não se fixam os habitantes de um país, nos encontramos com pessoas absolutamente diferentes e distantes umas das outras.Umas têm ofícios distintos de outras, exceto os que vivem em um mesmo bairro, o resto vive em outros lugares, mandam seus filhos a colégios diferentes, se divertem em lugares distintos, apresentam preferências culturais diferenciadas por região, por classe, por lugar de procedência, por trajetória educativa, por dinheiro, etc.Até mesmo é possível que nem sequer falem o mesmo idioma, nem tenham uma percepção do mundo compartilhada.
A maioria dos habitantes de um país nunca se conhecerá entre si e, no entanto, pertencem a um único país que permite que, desde que nascem, carreguem os efeitos bons e maus, mas materiais, desse pertencimento.
O que é o comum que têm milhões de pessoas tão diferentes e distantes umas das outras em um país? Em suas condições básicas de vida material, não trabalham como parte coordenada de um organismo coletivo como as antigas comunidades agrárias.Hoje, cada um participa em atividades individuais ou privadas, desvinculadas umas das outras e muitas vezes em competição. Tampouco são participantes de uma comunidade política direta que lhes permita a autogestão de sua vida compartilhada com os demais.No máximo, a cada cinco anos elegem aqueles que se encarregarão de fazê-lo em seu nome
. Diretamente, os habitantes de um país não têm algo em comum dirigido e gerido por eles diretamente. No entanto, possuem vínculos comuns indiretos. Usam uma mesma moeda, pagam impostos em uma única instituição governativa em correspondência a um percentual de seus ingressos ou gastos, registram sua identidade pessoal em uma única base de dados, apelam a um único compêndio de leis para fazer valer sua propriedade, seus direitos laborais ou suas infrações, dispõem de um mesmo marco educativo básico para seus aprendizados primários, acodem a um unificado sistema primário de atenção à saúde e, pelo simples fato de nascer e viver nesse território, têm acesso garantido na vida a um ingresso mínimo de recursos diferentes aos de outros países.
Em conjunto, a imensa maioria de vínculos comuns entre os habitantes de um país são todos eles efeitos de Estado e, em geral, é o único comum que possuem ao longo da maior parte de sua vida.Se nos fixamos nos habitantes que vivem na Patagônia, no conurbano bonaerense ou em Tartagal, grande parte (não tudo) do que têm em comum como argentinos vem organizado por sua pertença territorial ao Estado.
Até mesmo as celebrações coletivas mais relevantes, como os campeonatos de futebol mundiais, têm um formato da identidade estatal e sua unificação simbólica em uma bandeira estatal. Também podemos falar do idioma comum, que evidentemente é um produto estatal, dada a diversidade de idiomas que tinha cada região séculos atrás e que gradualmente foi relativamente unificado pela educação pública e as normas estatais.Ocorre o mesmo com o panteão de heróis cívicos, com a memória de passados imaginários ou os calendários recordatórios do destino comum.
Todos eles produzidos majoritariamente pelo Estado a modo de preencher o vazio moral e cívico que provoca a perda das antigas identidades locais.Por isso é que Marx fala do Estado como uma forma de organização política de toda a sociedade. E, se nos concentrarmos, esses comuns não são diretos, produzidos e geridos diretamente por todos os habitantes de um país.São comuns mediados, regulados e geridos e, muitas vezes, designados por um reduzido grupo de pessoas — as chamadas burocracias — que organizam desde cima a unificação das pessoas de um país. Certamente há outros comuns produzidos diretamente pela sociedade sem mediação estatal.Por exemplo, as revoluções, as extensas lutas por direitos ou respostas coletivas a grandes cataclismos naturais. No entanto, trata-se de comuns ou de unificações que o Estado busca subsumir sob a forma de legislação de direitos, de reformas do Estado, de orçamentos, de instituições garantidoras, etc.É como se o Estado só pudesse se consolidar alimentando-se dessa energia social comum sob a forma de expropriação constante do comum para criar um comum corrompido em e para o Estado.
No entanto, essa unificação que gera o Estado é uma unificação abstrata por tripla partida. Em primeiro lugar, como vimos antes, porque o Estado é inicialmente uma representação abstrata da organização da vida em comum entre as pessoas. Em segundo lugar, porque o comum entre essas pessoas no Estado está à margem de suas condições reais de vida, de seus direitos, de sua propriedade. O Estado unifica na abstração os cidadãos em um conjunto de direitos, reconhecimentos e proteções, mas o faz sem afetar as enormes diferenças de suas condições materiais de vida, de trabalho e de propriedade.
A cidadania estatal, que é onde se acumulam os efeitos de Estado, o comum do Estado, não produz uma comunidade de condições materiais de existência, mas enraíza as diferenças materiais reais ao criar um comum denominador de condições mínimas de existência, abstrato, garantindo assim a continuidade das diferenças reais da vida cotidiana.Nesse sentido, o Estado não produz a sociedade, mas é um efeito da sociedade que volta a unificar a sociedade.
Certamente, um Estado pode atenuar as desigualdades e diferenças materiais dos integrantes de uma sociedade, o que não é pouca coisa para a vida diária de uma grande parte dos membros de um país.E há que lutar para que isso aconteça assim, pois o Estado também pode aumentar as desigualdades, incrementar o sofrimento coletivo, criar mercados e criar burguesia. Mas o que o Estado nunca vai poder fazer é extinguir as desigualdades, porque não há um suporte objetivo na própria sociedade moderna que anule, na organização da vida econômica, essas diferenças estruturais.Por que o Estado, suas instituições e governantes que emergem e expressam uma realidade social desigual, haveriam de produzir desde cima uma ordem social que não existe realmente?
De que força extra-social deveria gozar o Estado para ir além do que o sustenta ou fundamenta?Imaginar um Estado com a força de produzir uma realidade social estruturalmente diferente da que existe e da qual emerge é uma maneira contemporânea de trasladar ao Estado o poder prometeico que têm os deuses das religiões, o que é muito inspirador, mas não deixa de ser uma falácia política.Os limites do Estado são os limites da própria sociedade, e isso faz que a comunidade política abstrata que instaura o Estado necessariamente tenha que ser abstrata.Em terceiro lugar, a unificação estatal da sociedade está mediada e organizada por uma parte reduzida da sociedade — a burocracia, os representantes políticos — que se comporta como a proprietária das coisas comuns que essa sociedade tem. Tudo isso faz do Estado uma abstração concentrada de toda a sociedade.
Mas a abstração estatal não é como qualquer abstração mental cotidiana; assim como o valor das mercadorias, o Estado é uma objetividade abstrata — esta é uma categoria de Marx —, uma objetividade abstrata, uma ação do intelecto coletivo, do intelecto social que tem um suporte material e que produz efeitos materiais na vida de todos os membros de uma entidade territorial. Uma mercadoria, qualquer uma, um telefone, foi produzida por numerosos trabalhos concretos articulados: o dos designers do software, o dos produtores de níquel e alumínio, o dos elaboradores do microchip, o dos montadores, etc.
Por sua vez, este telefone será trocado pelo dinheiro resultante da venda de mil quilos de batatas elaborados por um pequeno produtor agrário no norte argentino. Nada tem em comum esse produtor agrário do norte argentino com os mais de mil trabalhadores no mundo inteiro que extraem o níquel, que fazem o software, etc.
Mas, no final, esses trabalhos tão distintos se intercambiam mediados pelo dinheiro, esse representante geral da riqueza social. O que têm em comum o trabalho de produzir batatas e o de produzir um celular? Diretamente, nada. São frutos de trabalhos específicos muito diferentes e de proprietários distintos, mas podem se intercambiar porque ambos são reduzidos a uma substância comum abstrata: o trabalho abstratamente humano, geral, médio que contêm.
Mas o trabalho geral não existe como algo visível ou palpável; é uma abstração própria do intelecto que, no entanto, é a substância do valor das mercadorias — uma substância comum abstrata que todos os produtos do trabalho possuem e que permite o intercâmbio mercantil e, a longo prazo, o desdobramento geral do capitalismo global.
O Estado, assim como o valor das mercadorias, é também uma objetividade abstrata que faz dos indivíduos de um país participantes de uma comunidade política abstrata que produz efeitos materiais na vida diária dessas pessoas.O que sustenta o Estado, como se revelou durante a pandemia ou cotidianamente com o acatamento da lei, ou o pagamento de impostos, não são nem as instituições de saúde, nem os tribunais, nem o ministério da economia.
As instituições e os chamados aparatos estatais são apenas as ferramentas que gerem a substância social do Estado ou, nas palavras de Marx, a “qualidade estatal do indivíduo”. O que sustenta o Estado, o que é sua substância, seu núcleo social, são os vínculos, crenças e meios comuns que possuem os membros da sociedade e que, mesmo em sua qualidade abstrata e monopolizada, mantêm unidos, coesona a sociedade e os fazem participantes de uma entidade política compartilhada.
A confusão entre aparatos de Estado com a substância ou núcleo estatal é um dos seculares erros das múltiplas teorias do Estado que substituíram os fundamentos por seus efeitos, a substância pela aparência, a base social do comum abstrato — a base social, a base material do Estado. Agora, bem, a objetividade abstrata — esta categoria chave para entender o Estado moderno, com efeitos práticos no conjunto da sociedade — não se sustenta por si mesma. Não é uma ideia que voa no metaverso; requer um suporte material que a mantenha e a valide.No caso do valor das mercadorias, é a atividade laboral que se incorpora objetivamente no processo de trabalho específico da produção dessa mercadoria.
Sua intercambiabilidade resulta da abstração desse trabalho concreto material, que é reduzido a trabalho humano geral. A objetividade abstrata não é só uma ideia; sempre tem um suporte material. No caso do Estado, esse suporte material é o acúmulo de bens e recursos públicos que, para existir como comuns a todos os membros da sociedade, devem existir como monopólio centralizado da sociedade. Nos últimos 100 anos, dependendo dos países, os recursos públicos têm abarcado entre 10% a 50% do produto interno bruto de cada país e entre 5% a 30% do capital total dos países. Inclusive, no caso do chamado
“Estado de bem-estar” do século passado, os Estados do mundo chegaram a administrar entre 35% e 40% da renda nacional desses países. A carga fiscal extraída aos cidadãos e que alimenta o fundo comum do Estado se move entre 20% e 50% em relação ao PIB de cada país. O gasto público mundial oscila entre 25% a 35% do PIB, enquanto o Estado absorve de 10% a 30% da força laboral na maioria dos países do mundo, mesmo nos mais liberais. Isso faz dos Estados as estruturas políticas que, sob a forma de bens públicos, possuem o maior poder econômico dos países e em torno de cuja direção e controle se desdobram as lutas políticas dos setores sociais. Mas, além disso, os Estados possuem a capacidade exclusiva de influir sobre o valor, montantes e inclusive propriedade dos demais bens econômicos, culturais e territoriais da sociedade. Inclusive, podem modificar a própria estrutura de classes ao atenuar ou ampliar as diferenças de ingressos e propriedade — não as anulam, mas podem modificar suas diferenças via regimes tributários.
Os Estados, coisa que não podem fazer nenhuma outra instituição do mundo, podem se endividar a só compromisso de pagamento, inclusive por cima do valor da riqueza nacional produzida anualmente. Podem emitir dinheiro, retirar dinheiro, desvalorizar o dinheiro e qualquer titulação. Podem valorizar com investimentos espaços privados, podem transferir dinheiro a privados, subsidiar produtos, subsidiar serviços básicos, depreciar ofícios, valorizar as poupanças, subir ou baixar as taxas de juros para incentivar determinadas atividades privadas, confiscar propriedade privada, doar propriedade pública, regular mercados, criar mercados, encarecer produtos de empresas privadas com impostos, reduzir o valor das mercadorias em transporte ou energia, conter salários para aumentar ganhos empresariais, elevar salários para reduzir ganhos empresariais, baixar impostos a uns, subir impostos a outros, proteger investimentos, etc., etc., etc., etc. É muito poder! Esse suporte material é o que permite que a abstração do Estado esteja objetivamente fundamentada.
As sociedades se unificam sob a forma de Estado, e isso lhes dá um corpo representável ideal e materialmente a uma trama social objetivamente fragmentada em milhares de pedaços geralmente diferentes e muitas vezes enfrentados.
O Estado expressa as múltiplas fraturas sociais; existe por essas fraturas, mas, ao mesmo tempo é a vontade comum de unificá-las de maneira abstrata. Por isso, não é só um reflexo das diferenças, mas produz, na abstração das diferenças reais, uma sociedade unificada com suporte material da unificação. Em termos estritos, em um território não há sociedade unificada, mas múltiplas e variadas sociedades portadoras de lógicas, temporalidades, afinidades e lealdades muito diferentes.
A partir disso, o Estado produz, na abstração, uma sociedade — a sociedade do Estado como abstração, a que chamamos de países e, em alguns casos, nações. Por isso, Estado e sociedade não são idênticos. Por mais que o Estado seja uma forma de unificação política da sociedade, são identificadas como uma imagem especular, pois a sociedade sempre é portadora de seus fragmentos e de suas reais e potenciais outras formas de unificação. Historicamente, a forma Estado não tem sido a única maneira de organizar-se politicamente a sociedade, mas em sociedades mais complexas e com maior densidade populacional, a forma estatal surgiu de maneira contingente séculos atrás, entre muitos outros tipos de unificação, foi a que logrou impor-se por sua versatilidade e eficácia questionadora da complexidade social.
Essa parte da sociedade que se encarrega de gerir a organização política — o comum — é a burocracia, cujas formas de seleção têm variado e se hibridizado, por assembleia, sorteio, por linhagem, por herança, por mérito guerreiro, por golpes de Estado, por mandato religioso, por méritos de conhecimento, por seleção oligárquica, por voto popular, etc. Em todos os casos, uns poucos assumem a gestão do que é de todos. Uns poucos assumem a gestão da organização política de todos. É a qualidade indissolúvel da forma estatal, de sua forma conservadora ou mais revolucionária. Em ocasiões, os organizadores da unidade social não se autonomizam em relação aos representados, dando lugar a distintas formas comunais de organização da sociedade.
Em outros casos — a maioria das sociedades —, os administradores da unidade do comum estabelecem diferenças permanentes em relação a seus mandantes, criando um espírito de corpo burocrático contínuo e especializado. Essas são as burocracias modernas.Daí a segunda característica fundante do Estado: o processo de monopolização contínua dos comuns de uma sociedade. Não pode haver dois Estados em um mesmo território.
A centralização das formas de unificação dos membros de uma sociedade exclui, por princípio, a existência de outras formas de centralização do comum. Se não o fizesse, arrisca ser devorado por essas outras fontes centralizadoras do comum. A unicidade do Estado em um território delimitado é uma razão ontológica de qualquer Estado.
Por isso, não é casual que o Estado esteja em permanente disputa ou fusão com outras formas de produção monopolística dos comuns, por exemplo, com aquelas igrejas que buscam entronizar o monopólio dos meios de salvação espiritual com o monopólio da organização política da sociedade.
A história de qualquer Estado, de qualquer país, é a história do processo gradual de monopolização de comuns territorializados, começando pela tributação, a coerção, passando pela legalidade, a moeda, a educação e sua certificação, a gestão da saúde pública, os serviços básicos, a identificação, a regulação da aposentadoria, a magnitude dos bens públicos, o endividamento coletivo, o espectro eletromagnético, o conjunto das grandes ficções coletivas, etc., etc., etc.
Grande parte desses bens comuns tem surgido de lutas coletivas, de revoltas e greves, e já seja por incrustação de seus êxitos nas instituições estatais ou por absorção das demais sociais, finalmente o Estado os centraliza, metamorfoseando a energia social em energia estatal, dando lugar a um comum envilecido, mas comum.
O monopólio estatal tem essa qualidade paradoxal, mas vital para sua sustentabilidade histórica: centraliza e universaliza. Centraliza, arrebata, mas só pode fazê-lo universalizando. Arrebata e generaliza o comum, obtendo nesse duplo movimento a força social e legitimidade para fazer de suas decisões, decisões vinculantes — isto é, de aplicação obrigatória em toda a área geográfica de presença do Estado. O monopólio do comum é energia social vinculante que garante, em geral, sem coação, o cumprimento por todos e para todas as pessoas que habitam um território estatal.
O monopólio do comum é a fonte da legitimidade. Nenhuma outra instituição social possui essa capacidade de garantir, em uma escala de milhões de pessoas, uma equivalência entre suas decisões e o cumprimento das mesmas por parte de todos os membros que a compõem. Marx falava, por isso, do Estado como “força organizada e concentrada da sociedade”.
E essa força não é só coerção, mas principalmente força coletiva, vínculo prático com sentimento coletivo vinculante a todos os habitantes de um país. Esse é o poder do Estado garantido pelo monopólio e a materialidade do comum. Este é um tema decisivo: o poder do Estado não vem do monopólio da coerção, nem o monopólio da coerção vem de uma violência fundadora produzida ou contida a cada momento. O ardor hobbesiano não resiste à prova de uma sociedade que 95% do tempo se organiza e se coesona sem necessidade de uma baioneta na nunca.
O poder estatal — isto é, o que suas decisões sejam vinculantes — vem do monopólio do que é comum de uma sociedade, que, por sua vez, é a trama social subjacente ao funcionamento de qualquer aparato estatal. Os monopólios da tributação, ou da violência, ou do poder simbólico podem exercer-se porque são públicos, isto é, são comuns abstratos.
A tributação pode monopolizar-se porque, em abstrato, se trata de recursos que serão utilizados para apoiar a atividade de todos. A violência pode monopolizar-se porque, em abstrato, será usada para proteger a sociedade de ameaças externas ou violações da legalidade interna de grupos minoritários. A justiça pode monopolizar-se porque, em abstrato, resguardará propriedade e direito que todos possuem ou que desejam possuir. O poder simbólico pode monopolizar-se porque, em princípio, instituirá o que todos propõem instituir.
Em todos os casos, os monopólios do Estado podem realizar-se porque estão desenhados de maneira abstrata para beneficiar a todos, e nesse fato funda a legitimidade do Estado. Mas as teorias do Estado que conhecemos colapsam no momento de fundamentar a legitimidade do Estado.
A legitimidade baseada na tradição, no carisma ou na racionalidade legal de que nos fala Weber, ou o engano da ideologia ou da violência simbólica, não podem fundamentar nenhuma tolerância duradoura. E as eleições só consagram quem dirigirá. As tradições podem alentar tanto a aceitação como a rejeição; o carisma não deixa de ser uma atração passageira se não resolver angústias materiais coletivas e comuns; a racionalidade legal pode cativar alguns leitores apaixonados pela lógica, mas não pode ser aceita por milhões de pessoas por si mesma.
O engano, o ideológico ou o simbólico supõem uma população embrutecida que não é capaz de se dar conta da injustiça. E as eleições sempre supõem o monopólio de legitimidade que as antecede e as precederá. A legitimidade estatal pode manifestar-se externamente sob estas ou muitas outras maneiras temporais só na medida em que consagram, expressam, defendem de maneira relativamente exitosa vínculos, bens, experiências práticas ou expectativas comuns dos membros de uma sociedade. A legitimidade existe enquanto exitosa administração centralizada de uns comuns ou de um comum denominador de interesses compartilhados pelos membros de uma sociedade abstratos.
A própria eficácia das construções discursivas da luta política não se fundamenta em si — o que faria da gramática e da sintaxe a fonte do poder político; o não é assim. As palavras terão peso social ou serão meramente sílabas lançadas ao vento, dependendo de como se vinculem efetivamente com os comuns subjacentes que essa sociedade tem: suas angústias, sua propriedade, seus ingressos, seus problemas reais.
Com tudo isso, é possível agora entender a densidade daquelas reflexões de Marx sobre as condições de possibilidade da superação da forma estatal. A “destruição da máquina de Estado” a que muitas vezes faz referência, não é, por suposto, o desmantelamento de nenhuma instituição pública, nem sequer a dissolução da polícia ou das forças armadas.
Há Estados atuais que cumprem cabalmente sua função de dominação sem necessidade de forças armadas, como Panamá, Andorra ou Costa Rica. Nem sequer a supressão de algumas instituições e da instalação de outras instituições dirigidas por representantes de trabalhadores revolucionários, se aproxima minimamente à extinção do Estado, pois o nome que tenha a instituição e sejam quem forem os funcionários seguem monopolizando o comum da sociedade.
E monopólio do comum é a forma do Estado no capitalismo, seja quem for — capitalista ou não capitalista — o que dirige o monopólio. Se algum sentido revolucionário há em falar na destruição da máquina estatal, é o da supressão do monopólio — da supressão da centralização dos temas que afetam e envolvem a todos. A incompreensão do monopólio estatal como a máquina estatal é o equívoco de mais de 100 anos que arrasta a esquerda para as vias da emancipação. A luta pelos universais.
Quando falamos do monopólio do comum de uma sociedade, salta imediatamente à vista a qualidade paradoxal dessa definição: se é comum à sociedade, não pode ser monopólio acaparado por uns em relação a outros, e vice-versa — se é monopólio centralizado para o manejo de uns poucos, já não pode ser algo compartilhado por todos. Mas acontece assim.
Por exemplo, a proteção da propriedade é um tema necessário e requerido por todos. Certamente, a propriedade de ações de empresas é distinta da propriedade da força de trabalho, mas a abstração dessas diferenças substanciais e sua igualação como mera propriedade é a arte da abstração estatal que realiza o monopólio do comum.
A burocracia não pode apropriar-se do público, por mais que o queira e avance muitas vezes, mas tem um limite — não porque seja um vaso com pessoas virtuosas, mas porque é algo comum a todos, dissolvendo sua força vinculante e a legitimidade do governante para exigir o aporte impositivo ou o acatamento coletivo de suas decisões.
A crise estatal geral estudada por Gramsci acontece precisamente quando o Estado abandona sua qualidade geral, abstratamente de todos, e se mostra como aparato de suborno, como patrimônio de uma facção social. Estamos ante uma crise estatal. A estabilidade do Estado está na coexistência equilibrada e sempre negociada, tensa, entre o comum e o monopólio. E o pode fazer como um eixo de coordenadas: monopólio-comum. A utopia dos revolucionários é que o comum seja infinito e o monopólio, zero. A utopia dos liberais é que o monopólio seja infinito e comum. Mas são ideais utópicos.
Os próprios processos de privatização do público, que ciclicamente se realizam na economia mundial e na América Latina, têm uns limites para realizar-se exitosamente. Ainda que se apropriem privadamente do comum, devem fazê-lo em nome e sob a experiência do bem-estar comum.
Se se trata de privatizar um serviço, por exemplo, a eletricidade, o saneamento, a administração e os governantes que privatizam argumentarão e buscarão melhoras no serviço, ampliá-lo ou baratear temporariamente, de tal maneira que algum tipo de benefício comum imediato, individual, seja visível — ainda que, claro, mais cedo ou mais tarde, a rentabilidade privada do negócio se apropriará dos recursos que antes pertenciam a todos.
A privatização do comum sempre necessita apelar a um novo comum privado, talvez mais “eficiente”, mais barata, no curto prazo, para poder realizar-se — e ainda assim, apesar dessas mutilações do comum — nunca pode ser absoluta para manter a legitimidade. Como mostram as experiências históricas, sempre há um comum básico que permite manter a adesão ao Estado.
Quando isso se perde, estamos diante de outra crise estatal.Todos os atores sociais que buscam dirigir o Estado sempre tentarão subordinar o monopólio do poder vinculante e dos recursos materiais que os sustentam para colocá-lo em benefício próprio de sua classe, de seu setor, de sua aliança de classes. Mas para isso deverão fazê-lo necessariamente vinculando seus interesses particulares à lógica estatal, isto é, ao interesse geral ou benefício coletivo.
A administração de qualquer Estado do mundo requer a liturgia do geral por mais que o objetivo real seja o uso particular desses comuns centralizados — a essa simulação do interesse particular ou a essa conversão do interesse particular como interesse geral, Marx chama de “interesse geral de classe”. Trata-se, certamente, de um jogo de cena, mas que requer de âmbitos de objetividade para poder se efetivar. E, para ele, o interesse individual de uma facção social ou de uma coalizão de setores sociais tem que ser capaz de integrar verossimilhante fragmentos de outros interesses sociais a fim de aparecer como interesse geral de todos. Sem essa magia, não se pode governar.
O interesse de um setor ou classe social há de vir dominante não porque é capaz de impor-se pela força. Não basta a coação, o engano ou o poder simbólico para lograr uma fraude coletiva. A dominação política no Estado só pode lograr-se materialmente, duradouramente, enquanto esse interesse privado, particular,articula, integra retalhos, fragmentos, dos interesses dos outros setores de tal maneira que adquire suficiente materialidade social para um devir universal — isto é, interesse geral de classe. Dessa maneira, o universal é uma monopolização do interesse geral por uma ou umas classes sociais e a incorporação, subordinação fragmentada, de outros interesses de classe. E aquele setor que é capaz de realizar essa obra necessariamente parece como classe temporalmente universal, com liderança para dirigir ao resto. Nesse sentido, a luta política é uma luta pelos universais verossímeis de uma sociedade.
Não importa se o interesse do setor que saia exitoso nessa disputa seja o de utilizar a força do Estado para benefício grosseiramente privado, se consegue é capaz de beneficiar minimamente, de alguma maneira, temporariamente ao resto, especialmente os temas comuns que mais os afligem, que mais agonizam as maiorias sociais — por exemplo, a inflação.
Em tempos relativamente estáveis, com uma economia em crescimento e uma sociedade passiva, as propostas que se enquadrem com essa estabilidade aproveitarão as disposições coletivas prevalecentes. Que nessas circunstâncias os partidos dos capitalistas logrem maiorias eleitorais não se deve a que o Estado é deles, mas simplesmente as predisposições populares se movem no marco de um momento expansivo do capitalismo, e não há razão para esperar que as maiorias populares desejassem ou buscassem outra coisa diferente.
O Estado moderno não é, por definição nem dos capitalistas, nem dos não capitalistas, é o Estado no capitalismo e se a sociedade inteira desenvolvem suas atividades com relativa tolerância no capitalismo, é evidente que a unificação da sociedade sob a forma de Estado tem que expressar essa aderência social a um capitalismo expansivo.
Só em momentos de disfuncionalidade da velha ordem e dos antigos universais, as esquerdas ou progressismos alternativos com projeto rupturita podem ganhar possibilidades de ampla aderência.
Mas só o mal-estar social não basta, requer disponibilidade social para revogar os velhos horizontes preditivos, as velhas certezas. Se necessitam ações coletivas que reconfigurarem os protagonismos sociais, e em meio disso, poderá ter eficácia não só a força discursiva capaz de condensar os novos comuns que emergem, ou os novos universais contenciosos, mas também a credibilidade do sujeito político enunciante dependerá da intensidade, da extensão deste protagonismo social para que se produzam uma das três opções: uma reconfiguração de facções sociais que administram o Estado — o mais comum —, uma ampliação dos comuns centralizados em momentos de turbulência social ou, em caso extremos, um gradual processo de dissolução dos mesmo monopólios, coisa extraordinária na história de um país.
Em todos os casos, são as mudanças sociais o que estão sob as mudanças estatais. A luta pela direção dos universais verossímeis é a ideia imprescindível para chegar à gestão monopolista dos universais no Estado.
Quando essa ilusão objetiva se esgota, sob a forma de corporativismo popular, ou de oligarquização dessa ideia de Estado, estamos diante da governamentalidade brutal dos comuns que antecede, mais cedo do que tarde, a uma reconfiguração de elites, inclusive da própria forma estatal. Que fazer com o Estado?
Vimos que o Estado é uma maneira de unificação política da sociedade, tais como: a que resulta da constante monopolização dos comuns abstratos que possui essa sociedade.
A força material do comum é o conjunto dos bens materiais e simbólicos que centraliza e mobiliza esse Estado. A maquinalidade do Estado é o monopólio dos bens comuns, os bens públicos.O poder do Estado é sua força vinculante.
Os blocos sociais que aspiram a utilizar esse poder de Estado para benefício particular só o logram se incorporam fragmentos dos interesses que disputam por tudo isso, o acesso à direção do Estado é uma contínua disputa pelos universais eficientes de cada momento histórico de um país. Mas agora: qual é o papel do Estado nos processos de emancipação social?Por tudo o que temos argumentado e observado nos processos revolucionários dos últimos dois séculos, está claro que o Estado, em qualquer de suas formas contemporâneas e de governos possíveis, não é um sujeito de transformação revolucionária da sociedade, como acredita a ilusão vanguardista. O Estado não pode mudar o modo de produção capitalista por um diferente. O Estado não pode produzir desde cima o protagonismo social. O Estado não pode dissolver-se a si mesmo.
O Estado é uma maneira de agregação monopolística dos bens de uma sociedade e não pode produzir uma sociedade — socialismo, comunismo, comunitário, etc. — que desmonopolize o comum e que, no momento, não existe na realidade.
Certamente, o Estado, com seus recursos e forças vinculantes, pode expropriar riquezas sociais para entregar a mãos privadas ou pode monopolizar riquezas sociais para redistribuí-la de melhor maneira entre milhões de cidadãos. Pode ampliar os bens comuns, reduzindo a propriedade ou ganância empresarial, ou pode empobrecer as maiorias da população para entregá-los aos empresários. Tem esse poder! Não é pouca coisa. Tem um grande poder concentrado que influi nas condições de vida de todas as pessoas de um país. Mas não pode engendrar um novo mundo radical e estruturalmente diferente do que existe na sociedade da qual emerge — este é seu limite.
Mas tampouco se pode mudar estruturalmente a sociedade sem o Estado, como acredita a ilusão microautonomista pela simples razão de que o Estado é uma forma de unificação da sociedade. Aí estão as pessoas. E deixá-lo de lado não só é marginalizar uma grande parte da sociedade unificada sob o Estado, mas também é deixar o acúmulo de riquezas comuns e de bens comuns de toda a sociedade — porque é de todos — nas mãos de uns poucos.
A ação de abdicação de comuns e universais pelos capitalistas não deixará de agradecer, pois assim ficarão em suas mãos. Antagonizar Estado versus sociedade como antípodas históricas é impotente, idealismo absoluto. Há que desmonopolizar o comum do Estado deste e para a sociedade em seu conjunto. Estado ou sociedade, sociedade ou Estado é um falso dilema, pois ambos são partes de uma mesma realidade unificada em movimento. Certamente, a revolucionalização da sociedade só pode emergir como autodeterminação social, como protagonismo coletivo para reinventar desde suas entranhas as novas formas de produzir e organizar a vida em comum.
Mas, ao mesmo tempo, a maneira em que essa emancipação tem para irradiar-se como novo universal, paradoxalmente para sustentar-se como novo comum, é apelando à força vinculante e aos recursos comuns preexistentes no Estado. Estamos diante de uma tensão paradoxal entre Estado e sociedade.
Cotidianamente vemos essa tensão quando se conquistam novos direitos e como a sociedade passa da ação coletiva frente ao Estado ao protagonismo e à aceitação do monopólio, e vice-versa, indistintamente, sem colocar uma muralha da China entre ação coletiva e Estado. As revoluções não se fazem com extraterrestres portadoras de outras vivências puras, de antiestatismos, nem com seres humanos possuidores de ocultas experiências extra-sensoriais.
As mudanças sociais são feitas pelos povos, a partir do que são e do que experimentaram previamente para deixar de ser o que são. Nesse sentido, as revoluções nunca estouram como revoluções, mas inicialmente como ações de mudanças moderadas e pontuais, como mobilizações de demandas e concessões frente aos governos, de impugnações e inclusive inclusões no mesmo Estado, ou defesas do Estado. Mas, em circunstâncias excepcionais, esse protagonismo pontual em um determinado tema assumido como novo comum direto ou como novo universal no que uma grande maioria começa a se reconhecer pode provocar uma irradiação em cadeia, criando vontades de novos comuns em outros âmbitos da vida diária, como a economia, a propriedade, a cultura, etc. E em seu caminho são hidratados com os comuns estatais, desmonopolizando-os ou recorrem à força vinculante do Estado para expandi-los ainda mais, entremeando o comum direto com o comum monopolizado.
É o curso inevitável de uma sociedade em automovimento que produz o novo contra o velho, mas com os materiais do velho. Até que ponto o contato com os monopólios do Estado poderá neutralizar e subsumir o protagonismo social ou, inversamente, que a autodeterminação coletiva desmonopolize o comum que está no Estado, não pode ser definido de antemão. Não há um algoritmo para resolver isso.
Não há uma solução teórica a essa bifurcação. É um tema prático. Melhor: monopólio e desmonopolização do comum são dois momentos entrelaçados da mesma sociedade em impuro, mas real, estado de emancipação. A luta, e só a luta prática, poderá resolver se o Estado se reconstrói mais potente por obra de quem tentou superá-lo ou se este irá passar em câmera lenta ao museu das antiguidades.
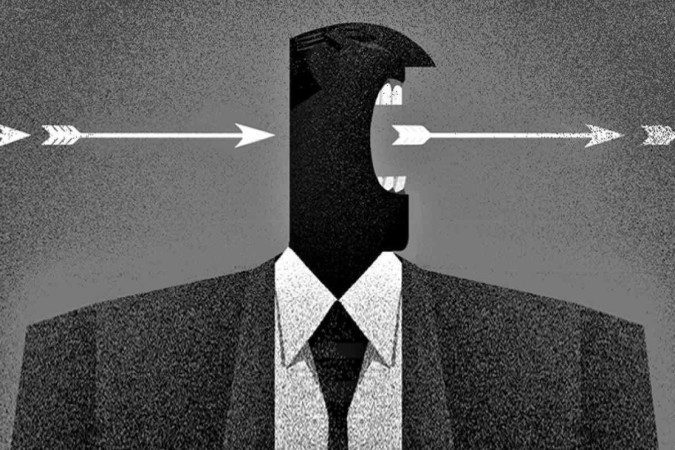
Comments


